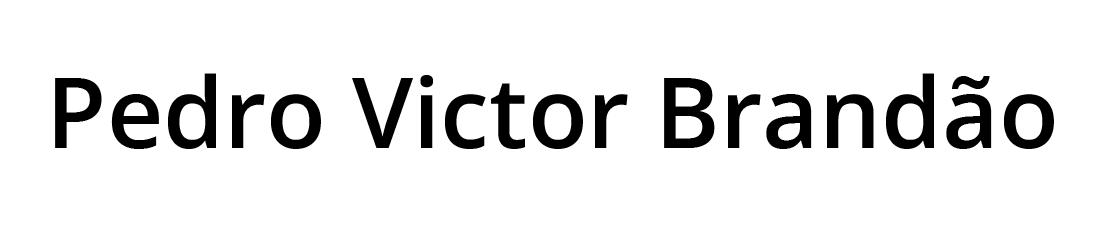Os novíssimos novíssimos – Elvira Vigna, 2012
Publicado no blog Estudos Lusófonos,
organizado por Leonardo Tonus.
Fiz uma pergunta, com meus olhos, a cada um dos 22 artistas da Novíssimos, uma exposição anual organizada pela galeria do IBEU do Rio de Janeiro há 42 anos. A pergunta foi sobre o futuro. Como eles viam e se viam, se é que viam e se viam, eles e a arte, amanhã.
A pergunta não estava pronta. Foi se fazendo depois que entrei, ao ver um ou dois quadros ou vídeos, ao notar o bom humor e a ausência de grandiloquência. Nenhuma. Zero.
Aliás, uma digressão. A Granta dos melhores jovens escritores brasileiros. No caso, em vez de 22, 20. E com um aposto falso, marqueteiro, o geracional, somado a uma bazófia, seriam os “melhores”, o futuro da literatura brasileira e outros ridículos. Nada disso aqui. Os Novíssimos do IBEU são de todas as idades e respondem à minha pergunta dizendo que não se trata desse tipo de futuro, o de um pouco definido “sucesso”, mas o da garantia do jogo, da troca. Chamemos de arte. Aceita-se a palavra significado. Linguagem. Jogar o jogo infinito da linguagem, eis o “sucesso” almejado.
Vou falar um pouco do que vi, começando pelo que mais gostei.
Alex Topini trouxe três vídeos. Num, a referência literária a Mário Quintana (“Todos estes que ai estão / Atravancando o meu caminho. / Eles passarão. / Eu passarinho!”).
O “eu passarinho” vem escrito na camiseta de um cara comum (o artista) que fica lá, assobiando trinados. Com cara de pobre, brasileiro a mais não poder. No segundo vídeo, Topini berra “artista!” para o nada branco e fica lá, mão em concha no ouvido, tentando ouvir pelo menos um eco. O terceiro fala sobre o silêncio. Quer dizer, não fala. Cartazes apresentam frases sobre o silêncio. As frases são banais, ele não se vende como um grande pensador, não é isso.
Sofia Caesar, formada em dança pela Angel Vianna, dança. Dança em silêncio dentro de uma sala burguesa, no espaço pequeno entre mesas e armários, bibelôs, toalhinhas. Uma mulher que existe nos espaços pequenos que conseguiu obter. O vídeo é em looping, o que aumenta sua força, é uma dança que não para, apesar de tudo e todos.
Alexandre Hypólito também faz, como Sofia Caesar, um comentário de gênero a partir de suas pequenas baionetas, presas na parede. Uma delas carrega, à guisa de culhões, dois desses saquinhos de pano que, nas HQs infantis, estão sempre cheias de moedas de ouro. A outra baioneta tem uma bolinha vermelha na ponta. Quase um nariz de palhaço.
A portuguesa (radicada aqui) Ana Carolina Druwe, desmancha, com tíner, imagens da cultura de massa. Faz o mesmo que Moisés Crivelaro, com imagens da cultura de massa cobertas de uma tinta a óleo pesada, texturizada. Ambos se afirmam, assim, como sujeitos que enfrentam um processo de desindividuação, que é o do consumo.
Também nessa lista entra Alexandre Rangel, que usa chiclete de bola para fazer lindo tapetinho cor-de-rosa, onde gruda sua carteira escolar, ela também cheia de chiclete. O título também é bom: “Pequenas transgressões”.
Arthur Arnold pinta o tema, em vez de apontá-lo através da linguagem como seus três colegas recém citados. Seus dois acrílicos de grandes dimensões, “Mary” e “John”, mostram um casal de meia-idade tomando sol com suas banhas e seus objetos caros, tecnológicos.
Pedro Victor Brandão também denuncia a tentativa mercadológica de caracterizar a tecnologia como instrumento de status, como garantia de alguma coisa. Mas, a meu ver, com um grau de sutileza e eficácia maior do que Arthur Arnold. Faz o seguinte: na galeria, eis uma televisão de última geração com a tela quebrada. Nessa televisão, passam filminhos institucionais típicos de ambientes de alta tecnologia. Tudo asséptico, todos sorrindo, jovens de futuro levemente estrangeiros, e tudo funcionando às mil maravilhas. Lá, no filminho. Mas a tela do computador que foi filmado coincide com a tela da televisão quebrada onde passa o filminho que mostra tudo sendo tão perfeito e lindo. E você só pode rir. Chama-se “A exaustão dos dêiticos” e vou voltar a esse título daqui a pouco.
Nena Balthar também quer chegar lá. Sendo que seu “lá” nada tem de asséptico. Pelo contrário. Sua obra é um tríptico. Três vídeos de alguém nadando, ponto de vista de quem nada. E nada e nada. Sem horizonte à vista. No segundo, o perfil do Rio de Janeiro lá longe, a dar novo alento. No terceiro, é o prédio do Parque Lage (centro principal do estudo de arte da cidade), o que o pobre nadador vê, entre uma braçada e outra, de dentro da água agora não mais oceânica, mas a do laguinho retangular do edifício histórico. Para se chegar ao Parque Lage, muito esforço, muita água. E é isso o que ela quer. Nenhuma máquina que funciona às mil maravilhas. Não. É um sonho do difícil, de prováveis fracassos, nenhuma perfeição à vista. O da arte. Também gostei bastante.
Há os que apontam os limites da tecnologia “infalível” contrapondo-a a obsolescências, uns de forma mais irônica do que outros. É o caso de Paula Scamparini e seus papeizinhos artesanais cortados, sujos, simples. De Bete Esteves e suas duas máquinas hilárias, uma de frente para a outra. Fazem lembrar carrinhos de algodão doce. Fazem um “bum” e soltam um anel de fumaça. Do tempo em que se fumava. Do tempo em que se fazia anéis de fumaça. É ainda o caso de Jonas Arrabal, que ressuscitou um mimeógrafo. E de Maikel da Maia, que usa um carimbinho de galinha e com ele sai carimbando paredes, suportes das obras e “livros de arte”. Em um deles, a galinha anda para trás, se o folheamos rapidamente.
Quatro artistas buscaram a violência. Uma dessas violências é a atual, num assassinato encenado e fotografado (Elen Gruber). Outra violência é medieval, na tortura feita em aguada sobre papel, cuja leveza de técnica teve o mérito de reforçar o tema (Paul Setúbal).
Lucas Osório se filmou pixando as paredes de um túnel urbano. Luana Aires pôs em looping sua chegada a um porto supostamente seguro, seu apartamento.
Pedro Moraes faz um exercício de perspectiva, pondo o quarto pé de uma cadeira como rastro no chão, o que a faz desabar; Fabiano Devide, com formação em educação física, faz quatro figuras cansadas e bem pouco atléticas; Felipe Fernandes se rende ao mercado com duas grandes telas em acrílico perfeitamente vendáveis; e a dupla de artistas Nathalia Gonçales e Marina Murta revive Duchamp assinando-se “Mãe Duchampa”: o que ele seria se vivesse hoje. Temos um dos pontos altos do humor do grupo nesse Duchamp assumido, transexual, a oferecer um passe, um descarrego, para “romper com as ervas daninhas” que prejudicam a criatividade. Talvez por uma módica quantia, talvez apenas através da venda de incensos, oferecidos no local.
E volto ao dêitico. E ao artista que falta: Felippe Moraes. Sua obra é simples. Um tronco fino cortado ao meio no sentido longitudinal. Dentro está escrito “1/2”. Ou seja, metade. Isso, em uma metade. A outra metade tem o mesmo “1/2”, mas espelhado. Como se o tronco, antes de ser cortado, contivesse o seu futuro de tronco cortado, e já, humildemente, (se) dissesse metade.
(Ou como se o “1/2”, aberto assim, uma metade espelhando a outra, fosse um fóssil. Um fóssil lá desde sempre, contendo, há milênios, sua afirmação, lá, para quando alguém o abrisse. E descobrisse: o fóssil, lá, presente no futuro, e sabendo disso desde sempre.)
Não vou repetir aqui a perda da centralidade do humano. Ok, vou repetir: primeiro a terra a girar em redor do sol, depois o lance da hereditariedade a partir do macaco, depois Freud, depois, ai, você sabe. Também não dá vontade de falar sobre a viagem construtivista, sobre a tentativa de ordem e controle, a independência da obra de arte em relação a seu contexto e entorno. Só vou dizer que, ao pôr as condições de significação, a sintaxe do artístico, junto com o “pronto” artístico, com uma finalização exibida como temporária, esses artistas novíssimos são de fato novíssimos. No meu entender, estabelecer as condições de interpretação, os limites, “erros” e o funcionamento da obra, junto com a obra em si, é a melhor e mais atual maneira de poder existir. Ou a única.
É um breque eficientíssimo contra o que Karl Marx (sorry) chamou de Entfremdung. Estranhamento. A nossa velha e conhecida alienação dos anos 1960. Segundo ele, causada pela perda de capacidade da sociedade em produzir significado a seus membros. Culpa dos processos industriais do tempo dele ou dos tecnológicos, no nosso, mas com um só remédio: empatia. Ou Einfühlung. Que só acontece quando há uma relação panteística (não só artística, não só tecnológica, não só nada, mas tudo junto, deslizando, deslocando) e uma confiança em algum tipo de futuro comum. Nunca fixo, mas de jogo, das articulações infinitas do jogo.