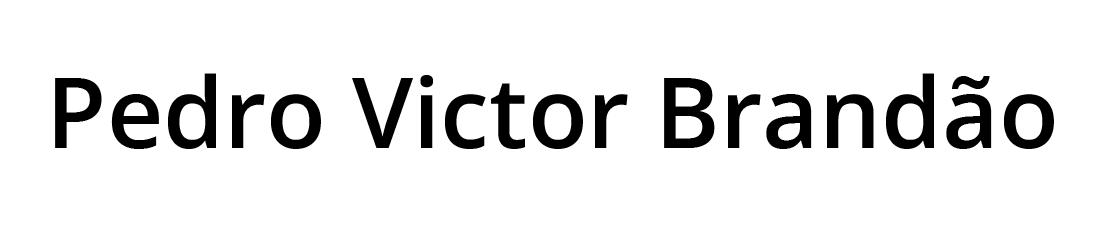reverência, subversão – Pedro França, 2011
publicado no lançamento do álbum e exposição de gravuras [edições] | UM, editado pelo Estúdio Baren com a Portas Vilaseca Galeria.
nove artistas e a velha tradição da gravura
1) meio
Eis por que esse texto é mais longo do que deveria ser: porque a gravura é, sempre foi, uma mídia de acúmulo – de gestos, de matrizes, de autores, de referências. Mídia que remete às primeiras manifestações dos impulsos imagéticos do homem; dos artistas que se eclipsaram com nobreza à sombra de seus mestres, copiando, preservando e divulgando obras hoje perdidas (Marcantonio Raimondi, gravador de Rafael: “Por minhas mãos viverá sua ideia”). Mídia de gênios anônimos, técnicos, impressores, alquimistas que transladavam imagens de um suporte a outro sem o gesto das mãos. Mídia dos ladrões: o mesmo Marcantonio Raimondi foi certa feita acusado por Albrecht Dürer de duplicar e vender suas xilogravuras, aderindo, inclusive, seu monograma ‘AD’ (os senadores venezianos permitiram que as cópias circulassem sem a assinatura do mestre alemão e, assim, foram os autores involuntários do primeiro ready-made). Mídias dos marginais (Francisco de Goya não pôde ver em vida a impressão de seus ‘Os desastres da guerra’, gravuras que criticavam abertamente os franceses invasores e a monarquia restauradora que os vencera ). Mídia revolucionária (Japão, União Soviética). Mídia de esquecidos: Urs Graf, Hendrik Goltzius, Osvaldo Goeldi). Mídia menor, a que igualmente se devotaram ilustradores, artesãos, copistas, inventores, naturalistas, etc. Mídia do poder: das cédulas e moedas (Cildo Meireles tentava pagar táxis com suas notas de zero cruzeiro), dos cartazes, dos manuais, da publicidade, das bíblias. Mídia obsoleta, mídia da cozinha, por vezes banida do horizonte de nosso olhar. Híbrida, versátil, impura – como este nosso mundo.
2) retratos (Pedro Meyer, Gabriel Giucci)
Os expressionistas alemães e a xilogravura: a brutalidade do gesto envolvido no trabalho da madeira buscava um barbarismo radical, que não estava apenas nas imagens, mas no próprio processo que as construía. A evocação do gesto primitivo de talhar (que já havia sido reincorporado à tradição da pintura ocidental nos relevos em madeira de Paul Gauguin e pelas gravuras de Edvard Munch) reforça a ação individual (a singularidade do gesto, a crueza da técnica) como estratégia de resistência ao mundo maquínico e massificado que os cercava. No Brasil, Lasar Segall e Osvaldo Goeldi foram artistas que se formaram no convívio com os meios vanguardistas (ambos recebendo influência direta, na Europa, do grupo expressionista Die Brücke). Da vivência de um continente marcado pelo trauma da Primeira Guerra, ambos trouxeram para o Brasil uma concepção artística que, aqui, desenvolveram de forma madura e emancipada.
Será possível filiar a essa tradição (expressionista) a obra de Pedro Meyer? Pode ser – afinal, se conhecemos um pouco do trabalho do artista, vemos que seus desenhos de grupos e multidões (turmas de escola, torcidas em estádio, etc.) atualizam estratégias expressionistas, como a saturação exagerada dos matizes e a diluição da forma em gestos fluidos. No entanto, sua manipulação deste repertório é frequentemente irônica, como no retrato, em estilo ‘primitivo’, do curador alemão Hans Ulrich Obrist. Nesta edição, Pedro Meyer reafirma seu interesse pela manipulação de repertórios tradicionais e pela discussão sobre o retrato. Para tratar de um meio que produz obras essencialmente múltiplas, Pedro acumula uma diversidade de matrizes. Cada uma delas, parecendo uma imagem singular, é na verdade uma interpretação gráfica e pictórica de imagens de perfis do Facebook (rede social cujo nome evoca galerias de retratos, livros de formatura, etc.). Se a encantadora agilidade com que o artista dá conta de cada um desses pequenos autorretratos remete à tradição do desenho moderno, também podemos interpretá-la como um comentário sobre a velocidade com que essas imagens são produzidas, recebidas e descartadas. E se essa atitude múltipla, ao dizer algo sobre a circulação de imagens no mundo contemporâneo, tende a diluir a ideia do retrato, talvez seja possível inscrevê-la na tradição do retrato de multidão (Daumier, Lumière, Glauber, Boltanski) que o nosso mundo de matrizes individuais parece ter esquecido.
Interessante comparar a atitude de Pedro Meyer com a de Gabriel Giucci, que, minucioso e econômico, apresenta um singelo retrato de uma menina japonesa (a figura repete o tema de sua série de desenhos mais conhecida). Novamente, temos uma imagem tomada do mundo e retrabalhada manualmente para, em seguida, reencontrar o processo mecânico da gravura. Gabriel acentua a presença singular da imagem de duas formas: primeiro, pela minúcia do traço, e segundo, pela composição radical da gravura, que coloca a imagem no centro do papel, flutuando em uma grande área branca. O perfil em três quartos, o pequeno tamanho e a utilização da gravura em metal parecem remeter às gravuras de Rembrandt, mas lembram, sobretudo, os simples retratos domésticos, usualmente guardados em portarretratos ou em estojos, tão comuns nas casas burguesas do século XIX. Assim, Pedro Meyer e Gabriel Giucci apresentam duas formas distintas de lidar com a tradição do retrato.
3) papel de parede (Antônio Bokel, Alê Souto, Pedro Sanchez).
No início do século XX, os surrealistas transformaram a tradição da cópia (dos grandes mestres), que vigorava desde o Renascimento, em uma outra, de apropriação de imagens tomadas do mundo. Já no início do século XX, Marx Ernst e outros viram a gravura como uma forma de justapor signos pilhados do amplo repertório visual produzido pela indústria: revistas e jornais, romances ilustrados, manuais técnicos, rótulos, cartazes, cópias fotográficas, etc. O roubo e a ressignificação de imagens (que os situacionistas depois chamariam de ‘desvio’) eram uma forma de desestabilizar os sentidos produzidos pela indústria e pelo mundo burguês. As tendências pop dos anos 60, respondendo a um mundo inflado por imagens em circulação acelerada, radicalizaram essas estratégias. Robert Rauschenberg, por exemplo, foi um profundo conhecedor dos vários processos gráficos, os quais utilizava amplamente e de forma híbrida. Em suas grandes pinturas, onde processos mecânicos dialogavam com interferências manuais, Rauschenberg concebia o suporte como uma espécie de papel mosca, no qual imagens em circulação no mundo pareciam se fixar de forma aleatória e não hierarquizada. Dito de outra forma, as superfícies de Rauschenberg têm vida semelhante à dos muros de rua, cujo aspecto é definido pelo acúmulo randômico de informações de origens variadas (intempéries, fuligem, pisos, rabiscos, colagens e recolagens de cartazes, etc.). Este tipo de abordagem da superfície influenciou muitos artistas cujas obras oscilavam entre o espaço expositivo e o contexto urbano, de Jean-Michel Basquiat a Banksy.
O repertório das obras de Antônio Bokel e Alê Souto nasce justamente do convívio com essas superfícies mutantes, urbanas, saturadas de marcas, traços e rastros, sedutoras do nosso olhar passante, essas gravuras prontas no mundo. Alternando trabalho de ateliê com ações no espaço público, Bokel parece sempre buscar a tensão entre a lentidão do fazer e a velocidade de recepção. Suas imagens podem ser percebidas com velocidade publicitária, mas acumulam em sua origem processos e tempos diversos. Rastro, gravura incluída nesse álbum, é um belo exemplo desta estratégia: são processos diversos (água-forte, água-tinta, escrita, mancha, linha, etc.) que se sobrepõem de forma sofisticada para criar uma composição que nosso olho apreende de imediato.
Alê Souto, com uma figuração que aproxima abstração geométrica e linguagem de quadrinhos, produziu uma série de obras a partir de um mesmo conjunto de matrizes: um muro em primeiro plano com edifícios ao fundo e, sobre a imagem, em letras garrafais, a palavra ‘METRÓPOLE’: as intervenções e tratamentos variados sobre esta base constante sugerem percepções cômicas e trágicas, reforçadas por títulos como A Metrópole que desapareceu quando seu recheio foi retirado e vendido por bom preço ou A Metrópole que em uma noite fria submergiu em um maremoto cinza. Criando narrativas que reagem a diferenciações processuais, Alê atualiza a discussão sobre diferença e repetição inerente aos processos mecânicos.
Também faz sentido afirmar que as obras de Pedro Sanchez encontram-se filiadas a uma matriz pop da arte contemporânea – pensemos nas imagens de tênis que o artista aplica na rua. No entanto, é um jogo inteligente entre os processos históricos e seus significados o que dá singularidade à obra que vemos aqui. Se, na rua, um olho curioso se aproxima das intervenções do artista, não encontra a retícula familiar do offset de lambe-lambes e outdoors, mas uma cor mais lisa, ou ativada por veios de madeira, e cujos limites parecem recortados à mão. Trata-se, de fato, de grandes xilogravuras: o artista utiliza a técnica favorita dos expressionistas para reproduzir ícones do consumo a partir de imagens encontradas na internet, invertendo a vocação intimista historicamente associada a este procedimento. Para esta edição, Pedro desenvolve sua gravura a partir da reprodução fotográfica de uma xilogravura colada na rua e, assim, ao invés de nos oferecer uma versão ‘doméstica’ de suas obras, apresenta a memória (gravada) da situação em que essas imagens encontram sua força: na rua, onde sua delicadeza é violentada pela sujeira, pela chuva e outros gestos.
4) homenagens (Iuri Casaes e Amador Perez)
A gravura foi, historicamente, um meio pelo qual artistas homenagearam, copiaram e plagiaram seus heróis. Neste álbum, dois artistas de gerações diferentes, habituados a trabalhar com a mídia impressa, parecem atuar nessa tradição: Iuri Casaes e Amador Perez.
A obra de Iuri Casaes é exemplar do caráter democrático da gravura – de sua capacidade (historicamente construída) de reunir e fundir repertórios e contextos artísticos diversos. É a partir dessa desierarquização que vemos, em várias de suas séries de impressões, usos do desenho que remetem tanto ao universo erudito da história da arte como, também, aos quadrinhos e às gravuras populares. Em episódios da ‘História de uma serviçal que enlouquece’, série de gravuras em metal, vemos reunidas referências a Goya e Picasso, mas também às gravuras populares mexicanas (lembremos da obra de José Guadalupe Posada, grande cronista de sua época, que ajudou a consolidar, com suas gravuras de ácido humor político, as tradicionais imagens das caveiras bem vestidas, associadas às festas do Dia dos Mortos). A protagonista desta série é um híbrido de mulher e bode, que reaparece em Garota Minotaura, presente neste álbum. Maja ou Olympia contemporânea, Tauromaquia de bordel, com traços grosseiros de cartum, a Garota Minotaura (note-se de novo que é uma cabrita) parece trazer ainda uma outra referência, muito bem vinda nesta coleção e que faz jus à história de nossa arte: a tradição da xilogravura popular, vinculada com frequência à literatura de cordel (Juazeiro do Norte, Lira Nordestina) e que conheceu grandes mestres, como José Bernardo da Silva e José Lourenço.
Amador Perez é, reconhecidamente, um professor generoso e motivador, como inúmeros artistas, designers e ilustradores (alguns dos quais contribuem para este álbum) não cansam de reconhecer. E Amador é, sobretudo, um grande artista, de pesquisa minuciosa e quieta, investigador quieto do mundo da imagem. Se, inicialmente, o repertório manipulado por Amador vinha sobretudo de jornais e revistas, sua pesquisa nos últimos anos tem como objeto quase exclusivo a história da arte. Nestes trabalhos, a reprodução mecânica e a cópia clássica se misturam, fundindo-se igualmente a investigação crítica sobre a circulação de imagem e a homenagem delicada aos seus heróis. Sua sensibilidade e temperamento ecoam nas referências a nomes como Morandi, Almeida Júnior, Goeldi e Vermeer, artistas de obras lentas e rigorosas, e que experimentaram, de formas distintas, a penumbra da história. Seu processo de trabalho a partir das imagens de que se apropria envolve o redesenho, os gestos violentos de corte e seleção e a reinserção desses elementos num caleidoscópio gráfico vertiginoso. O mundo da representação, enclausurado em si mesmo, expande-se infinitamente dentro de seus estreitos limites por meio da manipulação de técnicas como aquelas do Bolero, de Ravel, ou dos Wall Drawings, de Sol LeWitt. Os elementos da imagem parecem flutuar livremente pelo espaço, reorganizando-se com inteligência própria e gerando matrizes de infinitas outras obras.
Nesta edição, Amador apresenta uma das suas inúmeras variações sobre a obra Christina’s World (1948), do pintor Americano Andrew Wyeth. A personagem do quadro é inspirada numa vizinha do artista, que sofria de poliomielite – doença que paralizara a parte de baixo do seu corpo. Christina está reclinada num campo de vegetação típica do meio-oeste americano, olhando à distância para um celeiro e uma casa de fazenda que aparecem inalcançáveis no horizonte. Apesar da extensa paisagem, sentimos o enclausuramento físico e psicológico da personagem. Talvez tenha sido este sentido de limite que tenha interessado Amador: ao abordar o quadro de Wyeth, o artista traça eixos e divide o corpo aleijado de Christina em dois. O celeiro para onde a moça olha circula pelo plano: serve de apoio para as mãos, sobrepõe-se à cabeça, etc. Variações sobre espaço, distância, solidão.
5) abstração (Ana Freitas e Pedro Victor Brandão)
Estes são os dois artistas cujas contribuições para este álbum passam mais próximas da abstração. Ana Freitas talvez tenha produzido a única gravura de fato abstrata do conjunto. Seu trabalho, essencialmente processual, surge a partir da relação diária com o caderno: anotações, esboços, ideias. Por vezes, tornam-se objetos: um caderno que contém as suas próprias cinzas (a bela ideia de um corpo que é urna de si) ou um livro de páginas em branco encardenado com as mãos sujas – as manchas em cada página constituindo a memória involuntária do gesto de cortar, colar, costurar. Em ambos os casos, um curto-circuito nos aprisiona dentro do objeto, como um cubo de espelhos – limite estreito dentro do qual é possível expandir-se infinitamente. A gravura que Ana apresenta neste álbum é baseada em inúmeros estudos que a artista fez em seus cadernos, tensionando geometria e cor e explorando suas possibilidades mútuas de contenção e expansão. A técnica da água-tinta que ela emprega parece uma solução muito feliz para esta investigação: além de uma mesma matriz poder ser trabalhada com inúmeras tonalidades diferentes, vemos que há algo da ordem do acaso, inerente à técnica, que testa a estrutura da composição ao ameaçar corroê-la.
Já Pedro Victor é um artista acostumado a trabalhar com mídias obsoletas: particularmente, com processos fotográficos analógicos, hoje à beira da extinção (chacina técnica promovida pelo mercado, e não por seus usuários.). Lembro-me do primeiro de seus trabalhos que vi: um pedaço de rolo de papel fotográfico, sensibilizado e exposto às intempéries, no terraço da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (Estudo: luz, forma e conteúdo, 2006). Ali, o suporte fotográfico era utilizado em seu estado bruto – objetual, desengonçado, concreto, não estético, a produzir uma imagem residual, imagem-ruína, imagem-lama, não fixada e em permanente modificação. Em imagens produzidas com filmes vencidos (Dupla paisagem, 1999-2009), as paisagens registradas pela câmera convivem com outras descrições espaciais aleatórias criadas pela química envelhecida. Numa série de fotografias feitas na Escola de Artes Visuais (Alicerce infiltrado, 2010), detalhes arquitetônicos revelam o líquen úmido e colorido que toma a superfície de cantos e pórticos – fenômeno biológico que rima com os acidentes de laboratório, com os filmes mofados… ou a decomposição química de uma foto Polaroid, que o artista utiliza para produzir as impressionantes abstrações da série ‘Vista para o nada’, de 2008 (imagens autocriadas, líquidas, como é o próprio processo fotográfico tradicional, à diferença da tecnologia ‘seca’ digital, confirmações poéticas da antiga teoria da geração espontânea).
Dessas experimentações, nasce o projeto da gravura Caminhada ao Monte Graw. O título é uma referência à obra de Isabelle Graw, teórica e historiadora da arte, cujo último livro, High Price, discute as relações entre a arte contemporânea, a lógica de mercado e o sistema de celebridades que rege a cultura em geral. A partir de processos fotográficos, Pedro transforma uma página de um de seus livros em uma paisagem abstrata, cuja escala monumental é dada ao pequeno grupo de turistas que começa corajosamente a exploração do Monte Graw. Aqui, a convivência entre imagem indicial (os turistas) e processo químico (o monte), já presente nas outras séries do artista, parece uma sutil piada sobre a morte e a sobrevivência das mídias.
Sabemos, afinal, que, precisamente no momento em que se tornam obsoletas (esquecidas pelo uso cotidiano, desempregadas pela indústria), as mídias revelam a sua dimensão utópica. E talvez seja isso mesmo que esse álbum ajuda a mostrar: que, afinal, nesta ‘velha coisa, a arte’ (Gombrich), não existem meios obsoletos ou agendas antigas. Num mundo dominado pelas agendas de mercado, a cultura é a regra, e a arte, exceção, resistência.